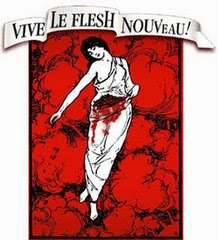Limbo. Desde o chamado boom do rock gaúcho dos anos 80, quando brilhou uma luz no fim do túnel para a (se é que podemos chamar de) indústria fonográfica deste que é o estado mais meridional do país, nada de espetacular acontecia na cena roqueira de Porto Alegre (minto, a aparição do Kingzobullshitbackinfullefects do DeFalla foi algo espetacular, um disco fundamental na história do rock brasileiro e também a última vez que o DeFalla tocaria com formação e repertório decentes, o Edu em sua melhor forma, todo o gás e a malemolência funk, gritos irados à la James Brown e uns dreads de fio de lã colorida colados com bonder direto na cabeça). Passada quase uma década do tal do boom, a luz no fim do túnel parecia ser o trem vindo contra.
Bandas cover. Esse era o boom do início dos anos 90. Boom-dão. U2 Cover, The Doors Cover, Legião Urbana Cover, Deep Purple Cover, os nomes eram originalíssimos e os vocalistas, normalmente, uns clones mal projetados dos frontmen das bandas as quais tentavam imitar. Então o Bono Cover era meigordinho e usava uns óculos escuros iguais aos do Bono; o Jim Morrison Cover tinha um cinto de medalhões prateados, calça de couro, bota de caubói, cabeleira; o Renato Russo Cover de barba, camisa branca, óculos de grau e assim por diante. Uma epidemia, as bandas cover se multiplicando de forma alarmante e tomando conta dos escassos lugares que havia pra tocar na cidade, até que não sobrasse quase nada para sinceros roqueiros interpretando composições próprias.
Alguns poucos artistas e grupos da década anterior ainda persistiam bravamente seguindo o ensinamento do ditado gauchesco que diz “não tá morto quem peleia”. Júlio Reny arrebatava corações apaixonados com uma repaginação do seu antigo Expresso Oriente e, logo depois, com uma guitar band; Wander Wildner trocara Os Replicantes pelo podresco Sangue Sujo e os Replis contra-atacavam com o Gerbase assumindo os vocais; o Defalla chegava ao ponto alto de sua carreira, culminando com uma apresentação polêmica num enorme festival com nome de marca de cigarro, no Rio; remanescentes do TNT se erguiam das cinzas num formato poser à la Guns’n’Roses muy em voga no período.
No submundo cultural, sobrevivia-se graças a (como sempre) iniciativas modestas como festinhas em estúdios e apartamentos, shows em butecos desqualificados e uma ou outra tentativa em alguma casa de show com maior infra-estrutura – tentativas estas fadadas ao prejuízo total, mediante as condições aviltantes geralmente impostas pelas casas (aluguéis de PAs carésimos, porcentagens injustas nas bilheterias, custos com divulgação exorbitantes). O Ocidente, um marco da resistência alternativa, passava por uma fase dance, tendo ampliado seu espaço com uma enorme pista de dança e fechado suas portas pro rock: nenhum show rolava por lá. No circuito estudantil, uma banda formada por uns estudantes de biologia da UFRGS, a Ultramen, agitava uns showzinhos bicho-grilo no campus central. Alunos das belas artes promoviam umas festas malucas, porém bissextas, no último andar do Instituto de Artes, um clima de liberou-geral entre estudantes, artistas, músicos e os freaks de plantão que podiam assistir a shows de bandas total arty, tipo a Pére Lachaise, do sydbarretiano Plato Dvorak ou a Aristóteles de Ananias Jr., uma versão mais hardcore (no sentido atonal) da Graforréia Xilarmônica.
A volta da Graforréia também foi um acontecimento importante pra cena da cidade. A banda tinha lançado há alguns anos uma fitinha demo – esses eram tempos pré-cd – que teve boa aceitação entre o público ligado na produção roqueira local. A Graforréia tinha um pequeno séquito de fiéis que comparecia religiosamente a seus shows, cantarolando e dançando todo o repertório da banda, umas canções neo-Jovem Guarda cantadas num sotaque tri-portoalegrense e repletas de trocadilhos infames, piadinhas sexistas e sacadas poéticas nonsense.
Eis que, do nada, a Graforréia decide pendurar as chuteiras e abandonar os palcos.
Após uma breve pausa, de um ano, mais ou menos, a banda volta pro segundo tempo com uma formação mais enxuta (de quarteto passou a trio), velhos sucessos rearranjados, todo o gás, prontos pra agitar a cena novamente.
O fim de semana de estréia foi bacana. Não foi fracasso, o que já consideramos sucesso. Na segunda noite, umas pessoas que tinham aparecido na inauguração repetiram o dose, alguns amigos a tiracolo. Noitada tranqüila, sem tumultos. Diversão na medida pra uma noite que é quase a ressaca da noite anterior – trago forte na véspera. Dentre aquele pessoal que aparecia no bar pela segunda vez, uns clientes assíduos potenciais, começavam a surgir os primeiros e legítimos garageiros, um público fiel e ao mesmo tempo transmutável que passaria a freqüentar o Garagem fazendo chuva ou sol, seja no inverno ou no inferno, na seca ou na ressaca, em noites movimentadas ou naquelas completamente vazias, em que somente eles próprios se revezariam entre os espaços desocupados do bar, uns deitados semi-adormecidos no sofá da sala dos fundos, outros em pé no patamar da escada tomando um arzinho e papeando à vontade, outros dançando excessivamente animados na pista e ainda os representantes do tipo mais clássico de personagem boêmio, o bêbado solitário: com o cotovelo colado no balcão por cinco horas consecutivas (pausas pra mijada), secando garrafa por garrafa, sabe tudo o que acontece no lugar, quem está afim de quem, quem ficou com quem, quem cheirou cocaína, quem vendeu cocaína pra quem cheirar cocaína, ele é o cara que salva o caixa em noites fracassadas, não come ninguém e chama o barman pelo nome. É o verdadeiro herói da noite. Anônimo, como deve ser o herói que se preze.
A seguir, alguns garageiros da primeira fase:
Drégus. Por um bom tempo foi o nosso Cliente Número 1. Graças a um descorno antológico que durou uma eternidade (love hurts, indeed), o Drégus mateve uma conta que, ao final de cada mês, praticamente cobria o aluguel da casa. Eu passava no banco em que ele trabalhava todo santo quinto dia útil do mês, pegava o cheque e depois repassava direto pra imobiliária. Nunca foi tão fácil. O que nos leva a uma das mais tristes constatações acerca das relações sócio-econômicas em nossa sociedade: é preciso um se fuder pro outro se dar bem. O Drégus apareceu com sua turminha na primeira noite. E na segunda, terceira, quarta e assim ad vomitum. De cliente passou a DJ, colocando som em festas, inclusive na concorrência. Sua canção-assinatura é I will survive, na voz de Tony Clifton.
Otto Guerra. Cartunista, cineasta e colecionador de ninfetas.
Cris e Guillermo. Namorados e artistas plásticos. O Guillermo era argentino e tinha um trabalho de pintura muito massa que deixou registrado em nossas paredes. A Cris era uma morena magrinha e pilhadíssima com uma voz estridente, adorava Sam Cooke. Uma vez ficou puta da cara porque eu disse pra ela a Factory é aqui, apontando pro papel laminado sujo e rasgado que cobria a parede dos fundos do palco. Vivem hoje nos States. Um em Nova York, a outra em Los Angeles.
Joy. Uma loira vamp e louca. Três em Uma: linda, rica e inteligente. Cocainômana empedernida.
Orson. O nome dele era Arthur, mas como era a cara do Orson Welles, virou Orson, de cara. Adotou o pseudônimo e viveu feliz pra sempre em meio à fauna (faina) garageira. Arthur era um pacato controlador de vôo no Aeroporto Salgado Filho.
Suzy Dolls. A mais célebre das groupies porto-alegrenses, imortalizada na canção do DeFalla.
Jimi Joe. O nosso Lester Bangs.
Teminha e Sonsinha. Duas meninas (hoje nem tanto) fiéis garageiras desde o começo. Eram irmãs.
Andréa e Carol. Idem. Só não eram irmãs. Amantes, i guess.
Márcio Ventura, o Rei Magro. Produtor cultural e vocalista da Nada Público – que, como o nome já indica, sempre padeceu por falta de... O Márcio inventou juntamente com o Fabriano (outro desses grandes músicos que abandonou o roquenrol) o Hermético Programa de Garagem, um show de variedades que estreou nos primeiros meses de 93, e agregava música, performances, esquetes, entrevistas, sorteios e o que mais pintasse. Mais tarde o Márcio se envolveu numa briga, foi expulso do bar e acabou virando persona non grata (por pura implicância, admito). Depois virou persona grata de novo e seguiu promovendo um monte de eventos no bar.
João Olair, vulgo João Palmeira, vulgo João Smog, vulgo João Vulgo. Baixista da Smog Fog, uma das bandas mais injustiçadas da história do rock gaúcho. Os caras nunca alcançaram o reconhecimento que mereciam. Eram geniais. Sozinho, o João era apenas um notório pentelho com uma cabeleira à Bob Smith (daí o Palmeira do vulgo) que mais tarde se tornou o operador de som do bar. Mesmo sendo um chato, falador compulsivo e bêbado invertebrado, pegava várias minas.
Big Ant. Um negão desdentado, malandro pra caralho, que vendia a cocaína mais malhada da cidade.
Fabinho. Morador do Edifício São Paulo, um prédio quase em frente ao bar. Com o passar dos anos, o Fabinho se tornaria o nosso braço direito. Coitado. Tudo sobrava pra ele: esperar a cerveja, fazer a limpeza, quebrar um galho no balcão, dar um jeito na elétrica. Valeu, Fabinho!
Gabardine. Um caso triste. Essa figura apareceu logo nos primeiros dias e a gente presenciou a trajetória descendente do cara. No começo era apenas um alcoólatra chato. Usava sempre uma gabardine creme. Aos poucos foi ficando um alcoólatra chato violento. Filão de cerveja, já não tinha dinheiro pra comprar sua própria bebida e uma noite agrediu uma menina depois de ter tentado tomar o copo das mãos dela. Foi expulso do Garagem e mais tarde, naquela mesma noite, vimos o Gabardine desmaiado no vão da escada que dava acesso ao bar, um buraco onde todo mundo mijava pra evitar a fila no banheiro, a gabardine creme encharcada e um cara em pé mijando em cima dele enquanto outro dizia mira da cara. O Gabardine sumiu completamente depois dessa noite, até que um dia eu e o Ricardo vimos a figura no centro. Tinha um olhar perdido e não nos reconheceu quando pedia a esmola, uma mão aberta e esticada pra frente e a outra na altura do peito, fechando a gabardine sem botões, preta de sujeira.
A gente tinha feito um acordo com o Vilson, um cara que tocava bateria em várias bandas e era a cara do Mick Finn, o parceiro do Bolan no T.Rex. O Vilson tinha um estúdio de gravação com equipamentos razoáveis (em termos de qualidade e bolso) e nos alugaria um PA por uma quantia justa, que seria paga com uma pequena parcela da bilheteria, o equivalente a 30 ingressos. Vo Vilson seria também o nosso operador de áudio oficial. Com um PA decente, capacidade pra 150 pessoas (mais tarde, com todas as mudanças e reformas, esse número quadruplicaria) e uma proposta justa de divisão dos lucros: 100% da bilheteria pros músicos, menos o custo do som. Óbvio que todas as bandas da cidade iriam querer tocar no Garagem.
Todas as bandas da cidade
O primeiro show aconteceu exatamente uma semana depois da inauguração: Graforréia Xilarmônica. Foi um show barulhento, o PA do Vilson ainda se ajustando à acústica da velha casa. No palco – usando ternos e gravatas completamente demodês, shorts de educação física, chinelos de dedo e óculos escuros do tamanho de morcegos de asas abertas nas caras intencionalmente panacas – Carlo Pianta, Frank Jorge e Alexandre Ograndi comandaram por quase três horas, com a maestria dos grandes, a catarse coletiva que é um bom show de rock. Um calor infernal e os janelões abertos impunemente como se não houvesse vizinhos. Tenho uma cena muito nítida dessa noite, o Carlo suando feito um camelo febril, gotas brotando em cascata da cabeça e dos braços, escorrendo pelos dedos e molhando as cordas da guitarra. O Carlo tocando e chegando perto de uma janela aberta ao lado do palco pra se refrescar. O som amplificado pra todo o bairro ouvir, explodindo pra fora da janela que mais tarde seria lacrada pra sempre com espuma e compensado naval.
A platéia, umas cento e poucas pessoas se acotovelando em frente ao minúsculo palco, era composta por obstinados fãs da banda, virtuais garageiros e diversas figurinhas fáceis do under, os-de-sempre, gente sem nada melhor pra fazer na vida do que sair de segunda a segunda percorrendo a ronda noturna dos bares, galzinhas de vestido tubinho e bota de cano longo, roqueiros tatuados e cheios de couro & estilo, minas de roqueiros tatuados tatuadas e cheias de couro & estilo, grunges de camisa de flanela, poetinhas mal vestidos, nerds de óculo de grau e pulôver azul bebê, mulheres barangas de colã branco decotado, tipos invisíveis com roupas absolutamente ordinárias.
Vendemos toda a cerveja de nosso (único) freezer.
Graças ao respaldo que a Graforréia tinha com a imprensa local, o show obteve uma ótima divulgação, a custo praticamente zero – apenas uns poucos trocados pros cartazes A3 e pros panfletinhos em xerox, chamados também de felipetas, mosquitos ou flyers: a mídia garageira por excelência. O principal jornal da cidade estampou uma fotografia da banda, destacando o show de estréia na programação de final de semana. Desde cedo estava traçada a nossa trajetória de menina-dos-olhos de segundo caderno.
Depois que a Graforréia tirou o cabaço, os shows continuaram em série. Geralmente às quintas, sextas e sábados, mas também nas segundas, terças ou quartas, conforme a demanda. As principais bandas do guetinho cultural da província, desfilando uma após a outra em nosso pequeno palco. Guitar bands, bandas punk, de rock retrô, de metal, de funk-metal, hardcore, new wave, experimentais, instrumentais, com letras em inglês, bandas de blues, jazz, reggae, bandas-cover, bandas de outros estados, de outros países, de outros planteas, bandas efêmeras e outras como Ultramen, Space Rave, Walverdes e Comunidade Nin-Jitsu, que fizeram seus primeiros shows por lá e seguiram tocando por muito tempo, bandas de dois ensaios, bandas de nenhum ensaio, bandas que terminaram após seu primeiro show, bandas que nunca gravaram, bandas que ninguém sabe que existiram, bandas cujos integrantes abandonaram o roquenrol e hoje trabalham como consultores administrativos em firmas multinacionais, bandas só de minas, bandas de um-homem-só, trios, quartetos, quintetos, big-bands, Academias Chiquérrimas, Acretinice Me Atray, Aristóteles de Ananias Jr., Barba Ruiva & Os Corsários, Barkley House, Benedyct, Borboleta Negra, Brigitte Bardot, Chapman, Colarinhos Caóticos, Cosmonauta Spiff, Coupe de Ville, Cowabunga, Crushers, Dellips, Experience, Funkenstein, Hip Horse, La Infâmia, Lovecraft, Mais Umas Coisas, Maldoror, Marmanjados, Mequetreques Suplicantes, Molly Guppy, Moses, Motor Mojo Junkie, Musical Spectro, Nada Público, Narciso, Omstrons, Pére Lachaise, Psicopompos, Qual?, Smog Fog, Spiders, Tarcísio Meira’s Band, The Clones, Undisco Bones...
Um rol de bandas mortas.
Shows inesquecíveis que pouca gente lembra, dispersos nessa coisa enganosa chamada memória, meleca super seletiva de imagens, sons e cheiros, sabão escorregadio que pra ser agarrado tem que se moldar no formato da mão.
Lembranças tópicas de eventos superespecíficos.
Por exemplo, o solo do Frank Jorge no show do Frank & Plato no festival Monterey Popstock durante aquela música: “Rod Stewart é amigo do Roger McGuinn”. A guitarra tremendo, rangendo, zunindo, vibrando e absorvendo a atenção da platéia delirante como a flauta que hipnotiza a serpente mais pelo movimento que pelo som que produz.
Ou a testa postiça de Frankenstein feita de espuma que o Chico Machado usava nas apresentações dos Omstrons e as luzinhas e engenhocas eletroacústicas e brilhantes que deixavam o show com um jeitão de performance multimídia de puteiro do interior e os acordes dissonantes que não saíam de cinco mil alto-falantes mais dos seis que compunham o PA do Vilson.
Ou o show da Experience, power trio com a legendária dupla Mitch Marini e Schneider, uma parede de amplificadores importados expelindo Jimi Hendrix e Cream a todo o volume, participação especial de Luizinho Louie com seu enorme kit de percussão, o Luizinho quase chorando emocionado em perfeita sintonia com as ondas sonoras que saíam dos potentes amplis importados, batucando em transe toda a parafernália de tambores, pandeiros e sininhos, sem a mínima noção que ninguém ouvia nada porque o Mitch tinha dito que não precisava microfonar a percussão.
Mas tem microfone sobrando. Argumentava o Vilson, durante a passagem de som.
Nã, nã, nã, não precisa. Replicava o Mitch, de cantinho, fazendo um sinal de quem diz não dá nada, enquanto ao fundo o pobre Luizinho, na maior das compenetrações, edificava passo a passo sua complexa traquitana percussiva.
Ou o show da banda Pirâmide, de Santa Catarina, uma cousa assim mezzo progressivo, mezzo Iron Maiden – fase Powerslave – com direito a cenário de esfinges e pirâmides de isopor, palmeiras de plástico e tochas de celofane emoldurando o palco numa recriação patética e totalmente fundo de quintal de algo que só com muito esforço poderíamos chamar de Egito Antigo.
Ou o show da Psicopompos. Uma data especial, aniversário de uns poucos anos. Eles tinham uma música que chamava Garagem Hermética e dizia no refrão algo como “beber e cheirar no corredor”. A música virou tipo um hino interno e resolvemos convidar a Psicopompos pra fazer esse show especial, o bar superdecorado pra ocasião, centenas de balões dependurados sobre as portas e espalhados pelo chão, os balões espalhados pelo chão estourando durante o show e enlouquecendo os músicos da Psicopompos, banda poética, intimista e até meio chata como dá pra imaginar só pelo nome psicopomposo.
Ou o show da Luciana Pestana, uma roqueira folka de voz grave e feiúra tipo Janis Joplin que, terminada a apresentação fracassada com pouquíssimos pagantes, pega seu violão, diz só vou comprar cigarro e dá no pé sem pagar o aluguel do PA.
Ou o show da Space Rave em que o Edu, vocalista, guitarrista e compositor que nos próximos dez (quinze?) anos ainda montaria as bandas Hip Horse, Musical Spectro, Undisco Bones, The Clones, Celophanes, Planondas, Dirty, Autobahn e sabe-se lá quantas mais, o incansável, merecia uma medalha de honra ao mérito under, o Edu resolve colocar pólvora na frente do palco pra queimar em efeito noise-pirotécnico, no auge de um solo explosivo. Quando a coisa explode, explosão mixuruca, quase um peido, um fumacê medonho toma conta do ambiente com um fedor de enxofre ou qualquer outra coisa diabolicamente fedorenta. Toda a platéia se vira de costas instantaneamente e sai em direção à rua, mão no rosto tapando nariz e boca, tosse, tosse, tosse. E m seguida, a própria banda foge também, sufocada.
Ou o show da Brigitte Bardot, a banda do Ricardo e do Marcos, o Ricardo de vestido longo da avó tocando uma guitarra completamente desafinada. O Marcos desce da bateria cuspindo palavrões e atira as baquetas no Ricardo.
Ou o show da Mais Umas Coisas (outra banda do Ricardo e do Marcos), o Ricardo saindo do palco bem no meio de uma música, sem razão aparente, louco de qualquer coisa ou várias, arrastando nos pés um emaranhado de cabos de instrumentos e microfones, fios e pedais. O Vilson indo atrás dele puto da cara pra cobrar o prejuízo. O Marcos roendo as baquetas de ódio depois de uma cusparada de palavrões.
Ou o show da Benedyct, outra banda do Marcos. Ele me diz:
Corta o som que nós já vamos começar.
E eu esqueço completamente e quando termina a primeira música do show todo mundo escuta de fundo o som mecânico que não tinha parado de tocar, quer dizer, todo mundo menos eu, que chapado demais não escutava nada, a não ser uma música interna que tocava dentro de mim lá-lá-ri-lá e o Marcos larga a bateria, sai do palco e me fustiga com um olhar de fúria extrema muito cuspe verbal.
Ou um outro show dessa mesma Benedyct. A vocalista, a Gaby, dá três pulinhos performáticos pra trás e cai por cima da bateria, e do Marcos.
Ou outra envolvendo o Marcos, só que dessa vez num show da banda Qual?. Por alguma razão (grana ou trago, decerto), o Marcos se desentende com um dos caras da banda e lá pelas tantas, no furor da discussão, saca um tubo de gás lacrimogêneo (o Marcos era meio extremado, se é que isso existe) e lava a cara do cara com aquele jato corrosivo, borrifando o infeliz como quem extermina uma barata no canto da cozinha. O troço quase deixou o cara cego, o rosto queimado, uns pedaços de pele despregados da carne e balançando pra baixo. No final da noite o cara que quase perdeu a cara foi visto sentado no meio-fio, rindo e chorando ao mesmo tempo, chapado até os ossos de gás lacrimogêneo. Na semana seguinte foi preciso o Fabriano intervir e dissuadir a figura de nos meter um processo por dano físico e moral, o qual (Qual?) perderíamos na certa.
Ou a brincadeira de amigos premiando amigos: o Garagito, troféu de nome simpático de tão simplório constituído de uma boneca Susy de atacadão do centro, fixada num pedestal de gesso e colorida por imersão. Low budget tosco de gaulês com inclinações artísticas. O Garagito premiou, de 93 a 2000, alguns dos mais obstinados roqueiros da cidade (a escolha da categoria principal, a de melhor banda, ilustra bem a preferência dos garageiros: Graforréia e Ultramen levaram três Garagitos cada, no ano em que não foram premiadas foi a vez do meteórico Júpiter Maçã levar o seu).
Ou o advento dos tributos. Pra ocupar datas vazias, homenagear cultuados artistas mortos (ou não) ou apenas se divertir tocando as músicas prediletas, a gente inventou essa modalidade de evento. Geralmente no aniversário de algum herói do ronquerol. Quando morria alguém também era tiro-e-queda: a gente tributava logo em seguida. Por exemplo, na semana da morte do nosso papa junkie William S. Burroughs, quando armamos o William Burroughs Last Words, uma homenagem sincera com show de bandas, performances literárias, exposição e venda de livros e drogas. Ou no mês do suicídio (esse sim, tiro-e-queda) do último mártir do roquenrol Kurt Cobain, um acontecimento que abalou toda uma geração que acreditava na indissociação do rock e da camisa de flanela. A figura central nessa história dos tributos era o Tavares. Alcoólatra byroniano, com um estilo de tocar que sintetizava John Lennon e Paulinho da Viola – ainda que totalmente desafinado quando muito bêbado ou sóbrio demais – o Tavares tirava tudo de ouvido, na hora, sem frescuras, sem nem mesmo ouvir.
Kurt Cobain foi deste prum Nirvana melhor?
Chama o Tavares.
Um bando de saudosistas ligeiramente góticos e bichas morre de saudades dos Smiths, Echo, Cure ou qualquer merda dos anos 80?
Call Tavares.
30 anos de Sgt. Peppers?
Ô Tavares, cê não tá a fim de?
Ano que vem tem Álbum Branco?
Já combinei com o Tavares.
Ou ainda uma história clássica envolvendo este sincero narrador: é sobre um show que não houve. Episódio sinistro. Envolve também uma banda de Santa Catarina que eu não lembro o nome. Os caras ligaram de Floripa querendo uma data pra se apresentar. Expliquei as condições e eles reservaram uma quarta. Pensei que era conversa furada e que eles nunca se abalariam lá de Floripa pra tocar em Porto Alegre numa quarta. Uns quinze dias antes da tal quarta chega pelo correio uma caixa contendo centenas de cartazes da banda. Uns cartazes de xerox em folha A3 com o nome que eu não lembro, uma foto da ponte de Florianópolis e um espaço em branco pra preencher à mão com data, horário e local do show. Um pincel atômico vermelho estava incluído n o pacote. Daí lembrei de uma vaga conversa telefônica, alguma coisa sobre a gente colar os cartazes, e eu dizendo claro, sem problemas, me lembrava dizendo convicto, afinal, eles nunca se abalariam de Floripa pra tocar em Porto Alegre numa quarta. Por via das dúvidas, na fatídica quarta, convoquei o Vilson e ele prontamente montou o PA e ficamos à espera da banda de Floripa. Tomei o cuidado de esconder a pilha de cartazes que não tinham sido colados, muitos, quer dizer, TODOS, camuflados em meio ao caos da salinha dos fundos. A menos que eles tivessem algum parente ou amigo na cidade, ninguém em Porto Alegre sabia do show. Como de praxe, a passagem de som foi marcada pras cinco da tarde. Esperamos até as oito. Nada. Decidi fechar o bar e ir pra casa: show cancelado. O Vilson desmontou a aparelhagem, apaguei as luzes e na hora de trancar o portão pra ir embora, estaciona um carro cheio de gente e instrumentos e amplificadores.
A gente tá procurando uma vaga pra estacionar já faz quase uma hora. Diz o motorista.
Olha, sinto muito, mas o show foi cancelado. Tão pensado o quê? Se cumpre horários aqui.
Mas a gente veio dirigindo lá de Floripa com todo o nosso equipamento, vocês não podem cancelar o show desse jeito.
Podemos sim. Tchau.
Fechei o portão e subi a Barros Cassal pra pegar o ônibus. Os caras ficaram ali parados, entre perplexos e putos da vida, sem acreditar no que tinham acabado de ouvir. Não sei como um deles não desceu do carro e me rachou os cornos com uma guitarrada, o mínimo a se esperar diante de tamanha filhadaputice. É que na hora eu só pensava nuns filmes pra devolver na locadora. Dei no pé. Mas a consciência pesou. Uma barra. Puta remorso por tamanha sacanagem com os caras. Porra, eles tinham se abalado lá de Floripa pra tocar numa quarta em Porto Alegre, isso não se faz! Naquela noite, revirando na cama, penei a insônia dos injustos. Tempos depois apaguei o episódio da memória, com remorso e nome da banda junto. Já a banda, tenho certeza que lembra direitinho de tudo o que rolou, meu nome e fisionomia inclusos. Algum guitarrista à espreita numa esquina qualquer da Ilha, pronto pra me rachar os cornos com uma guitarrada, enquanto eu passeio lindo, leve e solto de bermuda e havaianas em pleno feriadão.
*Leo Felipe
 "Se sobrou alguém que não desistiu de sonhar coletivamente, este é o escritor paquistanês, radicado em Londres, Tariq Ali.
"Se sobrou alguém que não desistiu de sonhar coletivamente, este é o escritor paquistanês, radicado em Londres, Tariq Ali.