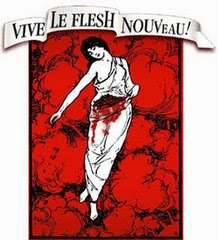É duro ser categórico como um gol de placa e admitir que o hábito da leitura está perdendo grandes extensões territoriais para outras distrações mais "fáceis" no turbilhão agitado da vida das crianças, dos adolescentes e dos adultos modernos.
De fato, entre o povo brasileiro, a literatura nunca carregou um porta-estandarte da mesma estatura que o futebol, cuja predileção sempre será soberana.
O Brasil não é a França, onde os índices de leitura chegam a sete livros por habitante/ano. Nossa média é de 1,8 livro. Não é por essa razão, certamente, que nos orgulhamos do Brasil e o amamos. Nação banguela & cariada que, contudo, não deixa de sorrir à boca larga.
Em terras brasileiras, a bandeira da literatura é semelhante a do ensino público. Meio esfarrapada, em 500 anos, nunca foi prioridade nacional hasteá-la com louvor. No entanto, que se proclame a verdade. A "literatura", consegue, sim, aproximar-se das multidões, todas às noites, quando vai ao ar mais um eletrizante capítulo da interminável saga maniqueísta travada pelos seres humanos nos folhetins eletrônicos – scriptum post scriptum, ano após ano.
Consegue lembrar quando foi a última vez que você parou pra conversar com um adolescente pra falar sobre um livro? Eu não. Grande parte dos adolescentes, se não está se bolinando em frente ao playstation, prefere fazer isso no banheiro, e não há nada de errado nisso. Os mais avançadinhos investem ações no rentável mercado da pegação. Não há leitura nesse mundo que desbanque o binômio diversão virtual & fricção carnal.
Fiquei meio chocado, mas nem tanto, quando um amigo, homem crescido, jornalista, me confessou que naquele ano não havia sequer folheado um livro. Não fazia questão de esconder, o tremendo safado, uma ponta de orgulho em sua revelação. Estava provando a si mesmo que não precisava de leituras e, aparentemente, parecia que estava ganhando a aposta. Curtia mesmo eram umas cervas. Grande parceria, mas duvido muito que tivesse pego em armas, quero dizer, copos, digo, livros, há anos.
Diversões infernais - O mundo de hoje é um parque de diversões satânicas difícil de escapar. Um livro, perto desse inferno lúdico, é a expressão do monótono – a significação perfeita para a maioria das pessoas que não tem saco para ler ou acham isso pura perda de tempo.
Se um jovem ficar sábado à noite em casa lendo Dom Casmurro, ao invés de "cair na balada", provavelmente seus amigos vão dizer que ele é depressivo. Ou freak, e logo uma terrível fama se espalhará. Ele pode até virar um assassino em série, se viver nos Estados Unidos. No Brasil, corre o risco de ser chamado de mulherzinha, se o pegarem lendo O Reverso da Medalha, de Sidney Sheldon.
Podem te chamar do que bem entenderem, mesmo que leia Sidney Sheldon – o que eles nunca vão entender é que dedicação à leitura se paga com uma moeda às vezes cara, a solidão. O aspirante a grandes leituras, com preço muito maior: a misantropia. Ler é um destino ainda pior para as famílias que não têm dinheiro para as coisas mais básicas da vida, quanto mais para comprar - por tudo o que é mais sagrado - um livro. De estômago vazio não se passa da orelha do livro.
A reportagem "Um país de não-leitores", publicada pela revista The Economist em março de 2006, estapeava a cara de todos: "leitura no Brasil é a vergonha nacional". Segundo a matéria, que apresentou dados de 2000, muitos brasileiros não sabem ler. Até aqui, sem novidades.
Agora, o que mais impressiona: "Dos que sabem ler, muitos simplesmente não querem ler. Apenas um adulto alfabetizado em cada três lê livros. O brasileiro médio lê 1,8 livro não-acadêmico por ano – menos da metade do que se lê nos EUA ou na Europa", escancarava a reportagem.
A The Economist também citou uma pesquisa recente sobre hábitos de leitura, na qual os brasileiros ficaram em 27º em um ranking de 30 países. De acordo com as pesquisas, no geral, gastamos 5,2 horas por semana com um livro, basicamente. Os argentinos, vizinhos, ficaram em 18º lugar na lista.
A revista ainda lembrou, alfinetando o monopólio dos meios de comunicação no país, que a Rede Globo, maior emissora de TV, também edita livros, jornais e revistas. Como se não bastasse.
A explicação para o descaso com a leitura, afirma a matéria da The Economist, fazendo a apuração jornalística que deixamos passar batido, é que séculos de escravidão levaram os líderes da nação a negligenciar a educação.
No Brasil, a escola primária só se tornou universal na década de 90: "O rádio era presença constante já nos anos 30; as bibliotecas e as livrarias ainda não conseguiram emplacar. A experiência eletrônica chegou antes da experiência escrita", explicou à The Economist o representante da Câmara Brasileira do Livro, Marino Lobello.
Se examinada com lente de aumento (e nem precisa colocar muito perto), a tal "experiência eletrônica" mencionada por Lobello delata, nas entrelinhas, muito sobre a precocidade que acomete atitudes dos jovens contemporâneos em várias áreas do comportamento.
De todo bom livro, mesmo o relato sobre a mais sórdida violência, exige-se um prefácio. Já a experiência eletrônica não exige prefácio qualquer – "passa-se logo ao prepúcio", parafraseando a zombaria de um amigo, literato, óbvio. A malandragem de hoje é puramente prepucial.
Desprefaciados - A mesma malandragem desprefaciada que não necessariamente ouve funk ou rock, mas engole mais drogas do que Hunter Thompson e os caras do Grateful Dead juntos, tudo numa noite só, como se tomar drogas fosse algum torneio disputado nas raves.
Perto das letras machistas do funk que estão na boca das multidões, o sexismo estereotipado da linguagem rock'n'rol, muitas vezes letrado, já ficou até meio démodé, embora o rock sempre retorne para cobrar seu dízimo de chauvinismo.
Ou o que se dirá dos pleaybas de alta que bancam de traficante só pra tirar umas P.I.M.P? Duvido que tenham lido a autobiografia do 50Cent. Se lessem os relatos de Bill Burroughs em Junkie, na década de 40, se envergonhariam em saber que toda degradação merece o mínimo de classe & embasamento.
Eles nem desconfiam, em sua ingenuidade literária, que poderiam encontrar rastros de prosa malandra e poética subversiva em Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Hemingway e no cronista carioca João do Rio – pra não me acusarem, justamente, de norte-americanista. E nunca vão desconfiar. É muito romântico. Muito fora de moda.
Mas todos os fenômenos produzidos em nossa sociedade, é preciso admitir, são culturalmente importantes - da escalada da violência ao blá-blá-blá antropológico do Big Brother, do BOP ao conteúdo das letras do funk.
O problema é quando, na grande cabeça ventricular da sociedade, esses fenômenos passam a ser códigos quase imperativos a serem compartilhados por todos. Indício claro de que alguma coisa vai muito errada. Não há dúvida de que alguma coisa vai muito errada. Faz tempo!
Na obra A Importância do Ato de Ler, o educador Paulo Freire, com seu estilo dialogante, narra os diferentes momentos em que a leitura aconteceu na sua vida. Ele diz que a leitura do "seu mundo" foi sempre fundamental, e não fez dele um menino antecipado em homem, "um racionalista de calças curtas".
Freire conta que foi alfabetizado no chão do quintal de casa, à sombra das mangueiras, com palavras do "seu mundo" e não do mundo maior dos seus pais. O chão foi o seu quadro-negro; gravetos, o seu giz: "A curiosidade do menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, no que fui mais ajudado do que desajudado por meus pais. E foi com eles, precisamente, em certo momento dessa rica experiência de compreensão do meu mundo imediato, que eu comecei a ser introduzido na leitura da palavra".
Aos leitores cabe a experiência na "leitura da palavra". O importante é começar de algum ponto. Comigo, um desses momentos importantes aconteceu já adulto, com a leitura do clássico de aventura Caninos Brancos (White Fang), do escritor norte-americano Jack London (1876-1916).
Livro que li pela primeira vez numa velha edição da Editora Globo, traduzida pelo introdutor de London no Brasil, Monteiro Lobato - arrematada por cinco reais num sebo de Porto Alegre.
Na "página" seguinte, não mais falo sobre essa relíquia (avariada pelas traças e caninos afiados do meu cão salsicha, o Guri), mas sobre o maravilhoso volume lançado pela Companhia Melhoramentos. Preparada originalmente pelas Éditions Gallimard, traz ilustrações de Phillippe Munch e comentários do professor de antropologia da Universidade Louis Lumière, de Lyon, e especialista em América do Norte, Philippe Jacquin.
Caninos Brancos é a história de um lobo mestiço de cão que abandona a solidão gelada do extremo norte-canadense, o temível Wild, para ganhar a civilização. Não tire o olho. A aventura está apenas começando.
 Antes de falar de rock, essa eterna festa que tecnologia, ideologia ou estética alguma jamais conseguirão dar fim, é melhor acautelar o leitor sobre o campo minado em que vai pisar nessa edição especial do blog [[DESORIENTAÇÃO]]: o Rio Grande do Sul – cenário de bravatas sangrentas & beligerâncias históricas.
Antes de falar de rock, essa eterna festa que tecnologia, ideologia ou estética alguma jamais conseguirão dar fim, é melhor acautelar o leitor sobre o campo minado em que vai pisar nessa edição especial do blog [[DESORIENTAÇÃO]]: o Rio Grande do Sul – cenário de bravatas sangrentas & beligerâncias históricas.
.jpg)