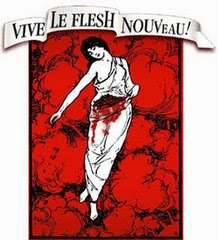“E sem dúvida o nosso tempo... prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser... O que é sagrado para ele, não é senão a ilusão, mas o que é profano é a verdade.
“E sem dúvida o nosso tempo... prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser... O que é sagrado para ele, não é senão a ilusão, mas o que é profano é a verdade.
Melhor, o sagrado cresce a seus olhos à medida que decresce a verdade e que a ilusão aumenta, de modo que para ele o cúmulo da ilusão é também o cúmulo do sagrado”. (Ludwig Feuerbach, prefácio da segunda edição de A Essência do Cristianismo)
Considerações como essa, que o filósofo alemão Ludwig Feuerbach (1804/1872) escreveu em sua obra definitiva, A Essência do Cristianismo, custaram-lhe a carreira acadêmica e o condenaram ao ostracismo pelo resto da vida. Feuerbach viu sua inteligência amargar a vitória do ilusionismo, mas acabou provando quão perigosas podem ser as tentativas de desvendar noções coletivas consagradas pela sociedade.
Todavia, cerca de século e meio depois, as ponderações de Feuerbach ainda são lúcidas para explicar a ilusão mágica exercida pelos reality-shows sobre rebanhos de milhões de telespectadores. No Brasil, eles se acomodam em frente ao televisor para "decidir" sobre o futuro dos participantes do programa Big Brother.
A exemplo do catolicismo e do futebol, duas heranças estrangeiras, o Big Brother, cuja franquia pertence a empresa holandesa Endemol, só vingou mesmo é no Brasil. Por essas bandas, alimentar a ilusão de poder aparecer na Rede Globo em horário nobre é uma aspiração além de unânime. Istoé, sagrada, como postulou Feuerbach.
Se fosse organizada uma temporada de plebiscitos mediados pela televisão, para determinar o destino do dinheiro público, por exemplo, não haveria o mesmo envolvimento dos telespectadores. No entanto, quando o tema é um entretenimento em massa, como o Big Brother, ou o final da novela, todo mundo tem a sua opinião. Detalhe: os telespectadores ligam (e pagam) para a emissora para participar dos chamados "paredões" do programa. Cidadania e política não é o que importa, alienação vouyerística, sim, é o que há.
Vivo, o teórico Guy Debord teria presenciado, nem um pouco abismado, nos reality-shows, a materialização das teorias da sua obra A Sociedade do Espetáculo (Editora Contraponto, 1997), escrita em 1967. Segundo Debord, o espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível.
Debord chamou o espetáculo de "o sonho da sociedade", que encontra nele sua vontade de fugir da realidade e se entregar à ilusão: "A alienação do espectador mediante o objeto de contemplação, resultado de sua atividade inconsciente, exprime-se assim: quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens, menos ele compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo. A exterioridade do espetáculo em relação ao homem que age aparece nisto, os seus próprios gestos já não são seus, mas de um outro que se apresenta".
A ironia maior é que a mídia, que ignorou Debord por toda a vida, promoveu, quando ele morreu, um "espetáculo na Sociedade do Espetáculo". A televisão exibiu o documentário Guy Debord, Sua Arte e Seu Tempo e o filme-documentário A Sociedade do Espetáculo. Os jornais lhe deram a primeira página, seu suicídio estampado com a manchete: "Morre um dos grandes pensadores do século 20".
Hiperespetáculo − Na opinião do sociólogo Juremir Machado da Silva, Debord é um homem do século passado. O espetáculo debordiano, para Juremir, chegou ao fim. A era que vivemos é outra − a era do hiperespetáculo. O espetáculo, elucida Juremir no texto Depois do Espetáculo (reflexões sobre a tese 4 de Guy Debord), era um fenômeno ligado à contemplação. O hiperespetáculo é a contemplação de si mesmo num outro:
"No espetáculo, cada indivíduo abdicava do seu papel de protagonista para tornar-se espectador. Mas era uma contemplação do outro, um outro idealizado, a estrela, a vedete, os 'olimpianos'. Um outro radicalmente diferente e inalcançável, cuja fama era ou deveria ser a expressão de uma realização extraordinária. No espetáculo, o contemplador aceitava viver por procuração. Delegava aos 'superiores' a vivência de emoções e de sentimentos que se julgava incapaz de atingir. No hiperespetáculo, a contemplação continua. Mas é uma contemplação de si mesmo num outro, em princípio, plenamente alcançável, semelhante ou igual ao contemplador. (...) O outro é 'eu' que deu certo graças às circunstâncias. O preço da fama parece estar ao alcance de qualquer um".
E o escritor George Orwell, que pensaria ao ver a expressão Big Brother furtada do livro 1984, e que diria dos reality-shows de hoje? Foi mais ou menos essa a pergunta feita ao apresentador Pedro Bial em uma entrevista à Revista Trip. O jornalista não deixa de tirar uma onda do povão que assiste ao Big Brother Brasil, que nunca ouviu falar de 1984 e que, se o lesse, saberia que o tal Grande Irmão é um vilão de primeira.
Bial, que pode se prestar ao papel de jornalista-animador de TV, mas não é nenhum idiota, tergiversou diplomaticamente: "Acho que ele ia ficar meio possesso com a apropriação do título. Depois, inteligente como era, ia falar: 'Puxa, o danado do capitalismo conseguiu subverter até isso!'. Até o que era sinônimo de totalitarismo e controle absoluto do cidadão vira programa de entretenimento. No Brasil é mais engraçado ainda porque o povo não sabe a origem da expressão. Acham que o 'brother' é de irmão, amigo [risos]".
Sombrio é confundir 1984 com entretenimento, quando a obra é puramente sobre totalitarismo. De qualquer forma, a analogia do BBB com o mundo profetizado por Orwell, de fato, existe. A única liberdade no Big Brother é a liberdade vigiada e contratualmente monitorada. Que um dos participantes ouse falar mal do funcionamento do programa ou do governo que o rege (a Globo)... A punição seria a pior imaginável: defenestração pública em rede nacional e a saída do programa transmitida para todos os lares. Com direito a lição de moral do Bial. Humilhação pior que o soldado deserdor poderia receber por abandonar a guerra do seu país.
Nesse ponto, o Big Brother é muito semelhante ao livro que o inspira: o controle absoluto pelos olhos que tudo vêem, sabem e controlam. Medo, sentimentos de inquietação, castração sexual e liberdade − mas só até certo ponto. Em outras palavras, uma forma de escravidão que pode ser muito bem remunerada. Ou não. A maioria esmagadora sai de lá com as mãos abanando.
E as analogias vão muito mais além do que supúnhamos. Tal qual a obra de Orwell, no Big Brother as classes são bem determinadas. Alguma punjança para os líderes e, para todos os demais, obediência, medo e solidão. O público, o olho tentacular do Big Brother, analisa as personalidade, faz os julgamentos e dá o seu veredito. E não há chance para se redimir. Se o jogador causar má impressão ao sair da casa, assim será para toda a sociedade, a brasileira, essa que legitima muitos dos seus valores com um controle remoto em punho.
Do ponto de vista sociológico, o mais intrigante é que os "brotheres" se mostram extremamente felizes na condição de confinados. Tão exultantes que as lágrimas rolam lépidas e inconseqüentes. Nem o santo nome de Deus tem descanso. É dito em vão a todo momento pelos participantes, agradecendo por estarem ali, encarcerados, ou suplicando à sensibilidade superior para que se dêem bem no jogo. Logo Deus, que já tem o Big Brother Mundo pra vigiar, além das guerras, da fome, da violência e da corrupção no Brasil.
Apesar de tudo, o fetiche é grande. Tanto por parte dos participantes como do público. Até as formas mais suaves de pornografia são beneficiadas pelo BBB. É a lógica de funcionamento do programa, que já prevê destino editorial certo para os saradas e sarados do programa no observatório erótico das revistas. Todos, sem sombra de dúvida, bombados e musculosos. Pedaços de carne bem cotados no mercado.
Autencidade premiada − O BBB é o território no qual a dissimulação vem fantasiada de "autenticidade", palavra-chave no glossário dos reality-shows. Certa vez, uma pessoa que conheci revelou que torcia por fulano de tal na edição passada do programa. Para uma confessa telespectadora do Big Brother, nada de anormal, se identificar com algum participante do jogo. Mas, ao me dizer isso, fiquei naturalmente curioso para saber porque ela estava torcendo por aquela pessoa: "Porque ele é autêntico", respondeu-me, como se tivesse aprendido a palavra "autêntico" assistindo à televisão.
A grande questão era saber se ela torcia pelo candidato em questão porque o Brasil inteiro estava torcendo pela mesma pessoa − e então este é um jogo de cartas marcadas em que o ganhador é definido antes do final − ou, simplesmente, porque o jogador seria realmente autêntico. Autêntico até o ponto em que a liberdade do programa permite. Pelo que sei, autenticidade tem a ver exclusivamente com liberdade. Sobretudo, liberdade de expressão e de pensamento.
Porém, como pode se ter autencidade ao participar de um programa que limita a liberdade de seus jogadores em um código de conduta que não pode ameaçar, nem de longe, os interesses da empresa que o produz? No BBB, autenticidade só seria possível se houvesse a mínima chance de crítica contra o stablishment do programa. Como não há, qualquer tentativa de ser autêntico, portanto, é meramente simulada. É como achar que existe liberdade escrevendo para um jornal. A liberdade só vai até onde começam os interesses da empresa.
A noção de autenticidade também se dilui nas edições do BBB. Confinamento após confinamento, fica visível que os participantes do jogo partilham de uma mesma linguagem padrão. Por já terem sido espectadores dos números anteriores, eles estão cada vez mais profissionais na construção de uma autenticidade auto-elaborada e na criação, com a palavra final da edição, de “kits-de-perfis-padão” identitários.
Edição após edição, "espie": a ritualização é sempre a mesma − dos gestuais ensaiados aos modelitos de banho, do exibicionismo fashion aos cortes de cabelo da hora, do sentimentalismo que se apodera de todos as amizades verdadeiras, da troca generosa de elogios à sinceridade fingida. Até a franqueza é fingida. Na casa do Big Brother todo mundo age segundo a mesma cartilha dissimulatória e, nos lares, todos dizem amém.
No Brasil, a usina do entretrenimento barato avança a todo o vapor. O número de pessoas que aspira a um posto de popstar, para gozar de cinco minutos de fama televisiva, é muito maior do que se imaginava. Culpa dos reality-shows, que retroalimentam os sonhos daqueles que não possuem talento para estrelar no restrito universo artístico. A oitava edição do Big Brother Brasil foi um record, superando os 200 mil inscritos.
Nos Estados Unidos, a lógica dos reality shows com "pessoas comuns" foi por água abaixo e não chama mais atenção do grande público. Por lá, o lance é explorar aspectos ainda mais bizarros da condição humana. A nova aposta da televisão norte-americana é manter sob vigilância celebridades decadentes em uma clínica de reabilitação para drogados e alcóolatras. É o Celebrity Rehab With Dr. Drew, que estreou nos EUA essa semana.
O desafio é largar o vício e ficar sóbrio em rede nacional. O programa começa mostrando os participantes no pleno exercício de seu vício, antes de ir para clínica. Um deles é a atriz Brigitte Nielsen (ex-senhora Silvester Stalone), que mamou uma garrafa de vodca no gut-gut antes de entrar na casa. Outro é o ator Jeff Conaway (da sitcom Taxi, dos anos 70), que está tão emboletado por ter ingerido uma mistura de álcool e comprimidos que sua fala precisa ser traduzida com legendas para o telespectador. Só estão esperando Amy Winehouse parar de vender discos pra mandá-la ao Celebrity Rehab.
Ratos de laboratório − Sabe como nasceu a idéia do Big Brother? Tudo começou quando o empresário John Demol, lendo um artigo na revista Biosphère, teve a idéia de filmar, dia e noite, cobaias humanas em condições similares à de ratos de laboratório. Batizado de Big Brother, o conceito virou show televisivo em setembro de 1999, atraindo 55 % da audiência.
Após sua explosão na Holanda, o programa foi transmitido para 27 países. Hoje, Demol produz em sua empresa, a Endemol, cerca de trezentos programas para o mundo inteiro. Relendo o velho Guy Debord, o esperto John Demol descobriu o grande trunfo teórico que viabilizou a criação do seu programa: "quem fica sempre olhando, para saber o que vem depois, nunca age: assim deve ser o bom espectador".
Os objetivos comerciais do empresário também se espelham em outra justificativa formulada na teoria espetacular de Debord: "O espetáculo é o capital elevado a um tal grau de acumulação que se torna imagem". No caso do Big Brother Brasil, botar sua imagem à venda equivale concorrer a R$ 1 milhão. Mas não é garantido que você vai ganhar. Mesmo assim, vai querer?
 Velharias inéditas de bandas como The Doors são jóias cada vez mais escassas. O box set Forever Changing: The Golden Age of Elektra Records-1963-1973, lançado pela Rhino, recupera raridades de artistas do cast da Elektra, que foi do purismo folk ao rock psicodélico e ajudou a fecundar as sementes do punk.
Velharias inéditas de bandas como The Doors são jóias cada vez mais escassas. O box set Forever Changing: The Golden Age of Elektra Records-1963-1973, lançado pela Rhino, recupera raridades de artistas do cast da Elektra, que foi do purismo folk ao rock psicodélico e ajudou a fecundar as sementes do punk.